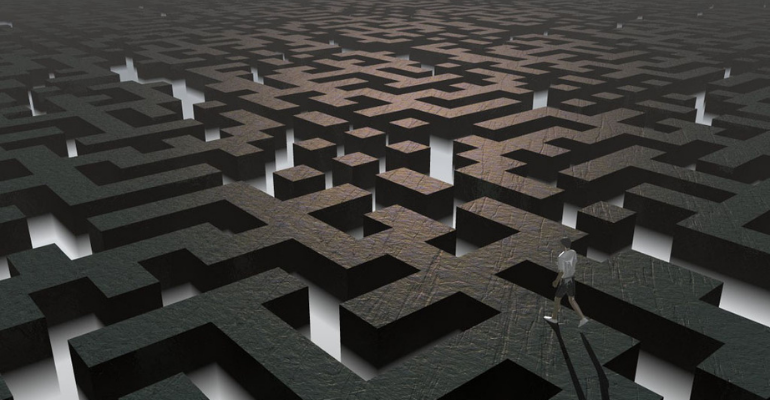Em outubro de 2021, a montadora Tesla lançou oficialmente o seu seguro-automóvel usando a tecnologia “real-time driving behavior”, algo como ‘aferição do comportamento do motorista na condução do veículo’. Por enquanto o seguro está disponível somente no Texas, tendo sido projetado especialmente para seus carros, que usarão sensores para analisar a conduta do motorista e, com isso, ‘ajustar o preço da apólice mês a mês’. O bloco de sensores embarcados no veículo é capaz de aferir em tempo real a boa ou má dirigibilidade do motorista, com indicadores algoritmizados que criam uma “pontuação” baseada em riscos empíricos (frenagem brusca, giros agressivos, distância segura dos demais veículos, etc.). Essa aferição é a base de cálculo para controle do prêmio-seguro, com a Tesla afirmando que um motorista poderá economizar de 20% a 40% em relação a um seguro tradicional, podendo os mais prudentes chegar a economizar até 60%. Obviamente o dono da apólice concorda e aceita contratualmente os termos dessa aferição.
Da mesma forma, várias seguradoras de saúde nos EUA, Reino Unido e outros países também já compõem o preço de apólices por meio da aferição da qualidade de vida do beneficiário (sedentária, semi-sedentaria, ativa, pós-ativa, propositiva, etc.), aferida diariamente por meio de fitness-devices que podem baratear as apólices para quem é menos sedentário. Um exemplo é a britânica Vitality, que oferece aos segurados a oportunidade de vincular dados de rastreadores de atividade física (vestíveis) à sua apólice. Nos dois casos, estamos diante de manifestações de ‘consumer engagement’, uma estratégia de relacionamento entre provedores e consumidores, assentada por ‘performances digitais’, que vai muito além da básica transação comercial. Na indústria de seguros o seu poder transformador é evidente, como mostra estudo publicado pelo BMJ em julho de 2021 (“Physical activity and the insurance industry”), revelando o que vem pela frente em termos de engajamento entre usuários e as cadeias de provimento (sempre é bom lembrar que em 5G é possível ter 1 milhão dispositivos por quilômetro quadrado, dez vezes mais do que em 4G).
A palavra engajamento refere-se a “empenho por uma causa”, tendo origem etimológica no francês ‘engager,’ que no português significa comprometer-se, empenhar-se ou contratar. Em alguns dicionários é definido também como ‘ato de participar de modo voluntário’, mas, na maioria das vezes, a expressão é utilizada de forma torpe, com derivativos que estão distantes de seu real sentido. Em RH, por exemplo, ela é usada para definir o alinhamento do empregado aos propósitos, valores e interesses corporativos. No Marketing, estar engajado significa estar perfilado com o consumidor. Na Saúde, o contexto está centrado no “envolvimento”, ou seja, quando o paciente alcança em conjunto com os agentes da cadeia de saúde metas determinadas. Para o setor, o “engajamento do paciente” significa buscar aproximação com o usuário para convencê-lo a embarcar em uma jornada de ‘troca de afetos’ (experiências), ambicionando a (1) otimização de recursos, a (2) qualidade do atendimento e um (3) desfecho positivo para o paciente. E aqui não pode haver dúvida de que estamos falando sobre afetos e não efeitos. A ‘experiência do paciente’ é muito mais influenciada por afetos (identificação subjetiva das relações com o mundo), do que por seus efeitos (identificação objetiva das relações), sendo a perspectiva sensorial aquela que mais levará o paciente a se engajar em desafios sociais (como já explicava Spinoza em sua obra “Tractatus de Intellectus Emendatione”, de 1672).
Ocorre que o acúmulo de problemas e insuficiências dos Sistemas de Saúde objetivou engajar o paciente mais na “sustentação” dos intervenientes do mercado do que em qualquer outra coisa. Na Covid-19, por exemplo, o “Engajamento do (e ao) Paciente” foi o melhor termo para explicitar algo como “desça o bote salva-vidas, estamos afundando!”, do que entender, atender e melhorar a experiência do paciente. Se alguns conseguem atingir esse objetivo, a maioria passa longe de perceber o que o biólogo Edward O. Wilson explicou: “Você me ensina, eu esqueço. Você me mostra, eu lembro. Você me envolve, eu entendo”.
Quando na década de 90 a Web invadiu o espaço profissional, ela propiciou a ‘digitalização das pequenas e médias empresas’. Mas quando em meados de 2010 o smartphone conquistou corações e mentes, ele na realidade ‘digitalizou o próprio indivíduo’. Passamos a ser parte digital, conectados ao todo, ao outro, ao mundo e, principalmente, a nossa própria entidade-digital (incrementando as possibilidades de autocuidado). Se a Sociedade 4.0 permitiu que qualquer pessoa participasse da vida global com seu smartphone, a Sociedade 5.0 está cunhando um novo ser humano: um humano-droide de células, bílis, sensores e inteligência expandida (natural + artificial). O Japão talvez tenha sido o primeiro país a levar a sério a Sociedade 5.0: "por meio da alta fusão entre o ciberespaço e o espaço físico, seremos capazes de equilibrar o avanço econômico com a resolução de problemas sociais, fornecendo bens e serviços que atendam de forma granular as múltiplas latências, independentemente da localidade, idade, sexo ou idioma”, explicou o governo japonês em 2020. Assim, o propósito da “Society 5.0” é não só ‘recodificar nossa genética’, como também ‘existencializar’ os espaços sociais do trabalho, da educação e da saúde. Nesse sentido, o contexto de “Health 5.0” estampa e projeta definitivamente a ideia de que “a tecnologia não só suporta a humanidade, como é parte da humanidade”. A fusão do físico, do digital e do social, Figital, como tão bem denomina o prof. Silvio Meira, redimensionou a ordem e a hierarquia dentro da Cadeia de Saúde, promovendo uma transversalidade capaz de incluir o paciente em todas as suas estepes.
Pacientes, pessoas e indivíduos como qualquer um de nós, interagem com o meio digital de maneira cada vez mais orgânica e existencial. Engajam seu intelecto às práticas bancárias, ao e-commerce, a logística digital (app) e a quase todas as indústrias de serviços, sempre esperando que o mesmo ocorra no âmbito sanitário. Com a Covid-19, as pessoas passaram a ter menos paciência para esperar a digitalização do setor, e reclamam a consagração do universo digital em seu cotidiano de saudabilidade. O problema é ainda maior quando se percebe que os serviços médicos continuam ‘entocados’ e ensimesmados. Mesmo com toda tecnologia hoje disponível, a fragmentação das cadeias de saúde (em geral sistemas descontínuos e improfícuos de gestão organizacional), continua a ser a própria expressão do “desengajamento crônico” de todos com todos. Esse assombro é tão flagrante que não seria de se estranhar que ele interesse a setores da Saúde.
Patient Engagement é um neologismo criado no final do século passado, que ficou nisso: uma expressão modernista, repleta de objetivos altruístas e atulhada de projeções positivas. Avançou pouco. Fora as promessas e algumas poucas ilhas de bons resultados, a manutenção de hábitos e costumes foi mais forte do que a determinação de construir efetivamente uma relação transformadora de engajamento coletivo. Uma explicação para esse fracasso poderia vir de uma velha e surrada frase, hipoteticamente aludida a Peter Drucker: “A cultura come a estratégia no café da manhã”. Ou seja, não se desconstrói hábitos, vícios e linhagens só com querença, é preciso muito mais, talvez até um pouco de “sangue, suor e lágrimas”.
Um exemplo típico é a seara hospitalar: um gomo do sistema onde pacientes entram com suas crises e saem com esperanças, mas sem qualquer conexão com prevenção, promoção e personalização de seus cuidados. Hoje, em pleno século XXI, o maior ativo hospitalar continua sendo seus dados clínicos, uma massa de conhecimento capaz de diligenciar e mitigar nacos de improdutividade e iniquidade dos sistemas sanitários. Mas essas ‘referências médico-científicas’ permanecem sob domínio de hostes hospitalares, sem qualquer compartilhamento dentro da cadeia ou mesmo com o paciente. Guardadas as exceções de sempre, hospitais continuam sendo leixões-imperiais, fechados em ritos absolutamente arcaicos e controlados por administrações bizantinas. São o exemplo mais cabal no século XXI do desengajamento ecossistêmico. Não é muito diferente com as Operadoras que financiam a saúde. Todos protegendo seu “queijo”, driblando as realidades de um país assolado por aquilo que a OMS chama de ‘clinical-care misinformation’, um vazio clínico-informacional que conspira a favor da desigualdade e do sectarismo. Certamente que ninguém tem culpa de forma vertical ou individual, mas na horizontal poucos trabalham para mudar esse ‘disengagement status’.
Mas, como tudo nesta terceira década do século, as coisas estão mudando. “Patient engagement” cresce não só como ideário, mas, principalmente, como rito de sobrevivência para todos os envolvidos. Sua trilha é envolver pacientes e agentes de saúde na ação e na tomada de decisão clínica. Sua ordenação precisa manter os pacientes: (1) informados, compreendendo seu estado de saúde e os tratamentos recomendados; (2) conectados, ou abertos ao diálogo com provedores e foros de saudabilidade; e (3) capacitados, instruídos e educados a pensar a saúde de forma pragmática e ritualística. Todas essas 3 condicionantes só acontecem se houver comunicação e envolvimento de todos os entes que atuam no cuidado do paciente. Nesse sentido, as tecnologias digitais são hoje o principal elo de engajamento. Pesquisa publicada em 2020 pela Accenture (“Re-Examining the Accenture 2020 Digital Health Consumer Survey”) mostrou que 26% dos consumidores de serviços de saúde estão dispostos a mudar de provedor pela má experiência digital, sendo que 39% deles acreditam que uma boa interação digital tem uma grande influência em sua experiência com serviços de saúde. Se o envolvimento precisa ser ativo (participação direta em seus cuidados), o engajamento deve ser interativo, o que só é possível e profícuo com auxílio digital.
Em 2015, outro estudo (“When Patient Activation Levels Change, Health Outcomes And Costs Change, Too”), publicado na HealthAffairs, já mostrava que “um maior envolvimento do paciente em seus cuidados está associado a 9 entre 13 desfechos positivos”, concluindo que a envolvência do paciente é nuclear para se obter bons indicadores clínicos e comportamentais. “Este é o maior estudo observacional voltado a examinar a relação entre os níveis de ativação do paciente e os resultados ao longo do tempo, objetivando avaliar se os resultados mudam quando esses níveis se alteram. As descobertas mostram que quando a Medida de Ativação do Paciente (“single assessment of engagement”) aumenta, os resultados sanitários tendem a mudar na mesma direção, com os custos melhorando na mesma proporção”, explica o report. Se isso já era sabido, por que era ignorado ou desconversado? Não importa, a Covid-19 está reativando os vetores de patient-engagement, como já vem ocorrendo nos EUA.

O contexto de “Health 5.0” estampa e projeta definitivamente a ideia de que “a tecnologia não só suporta a humanidade, como é parte da humanidade”.
O trabalho “Overcoming Challenges to Effective Patient Experience”, publicado em março 2021 pela Xtelligent Healthcare, revelou que 69% das organizações provedoras de saúde norte-americanas passaram a aumentar seus esforços de ‘envolvimento com o paciente’ mesmo em meio a pandemia. Da mesma forma, dos que aumentaram os esforços, 72% deram ênfase a ‘coordenação e integração de cuidados’ (care coordination), com efetivos resultados clínicos e econômicos. Essa colaboração também está sendo propelida entre os players do setor, com cada médico se obrigando (ou sendo obrigado) a apoiar seus pares, que em conjunto se integram aos pacientes. Nesse contexto, crescem as funcionalidades, inovações e a algoritmização das plataformas de “engagement”.
Uma “plataforma de engajamento” é uma ferramenta digital que permite aos pacientes interagirem com os provedores de serviços por meio de seu smartphone, tablet, sensor, medical-device ou desktop. Seu objetivo é fechar a lacuna histórica de comunicação e participação entre fornecedores, pacientes e demais agentes de saúde. O relatório da Accenture mostra o quão longe ainda estamos dessa integração: apenas 11% dos pacientes relataram discutir soluções diagnósticas com seus provedores. Assim, uma real solução digital de engajamento vai muito além dos recursos simplistas de mensageria, chats, agendamento de consultas, exames, ou adereços de alerta por WhatsApp (comunicando, por exemplo, que o “laudo está pronto”). As novas plataformas estão cada vez mais inteligentes e agregam funções de grande envergadura clínico-assistencial, que em muitos países, claro, continuam sendo “toxic-information” para boa parte da comunidade médica.
Estamos falando de patient-engagement-platforms inteligentes e capazes de: (1) compartilhar o RES - Registro Eletrônico de Saúde (pessoal ou hospitalar) com o paciente; (2) realizar Prescrições Eletrônicas em tempo real; (3) prover espaços digitais seguros para Pagamento/Recebimento em tempo real (“electronic billing”), sem os famigerados boletos; (4) oferecer aos pacientes estruturas de Educação em Saúde (“patient literacy”), personalizadas e orientadas ao seu quadro clínico, utilizando Redes Neurais Artificiais; (5) direcionar programas de Promoção a Saúde individualizados e integrados ao RES e às cadeias específicas de varejo, garantindo que não falte insumos (nutrientes, proteína, etc.) ou medicamentos; (6) promover ‘Patient Clusters Chronic-Morbidities’, as redes de pacientes com cronicidades similares que trocam experiências e testemunhos; (7) prover integração-transversal (“cross integration”) com parceiros, eliminando retrabalho, duplicidade de exames, reinternações, eventos medicamentosos adversos, etc.; (8) expandir os espaços de Telehealth (“all in”) em consonância com estruturas de Open Health ou Medical Public Hubs; (9) coordenar ações de clinical trial, com a participação consentida, anonimizada e segura dos pacientes, com benefícios diretos e escaláveis à eles; (10) implementar definitivamente o conceito de ‘Unique & Digital Front Door’, eliminando ou reduzindo as bíblicas estruturas de contact-center; etc.
O “futuro da saúde é digital”. É verdade, mas ‘só e sempre que ele engaje o paciente’. Se os players da rede assistencial (pública e privada) não adicionarem o ferramental de ‘ativação e engajamento’ na sua cadeia de valor vão desaparecer em pouco tempo. Boa parte do custeio do setor decorre, por exemplo, do isolamento entre médicos, que justificadamente “não têm tempo de olhar as anotações e orientações dos colegas”. Se isso é verdade e trata-se de um impedimento crítico, nada mais correto do que ‘trazer o paciente para dentro do contexto’, envolvendo-o não só nas decisões, mas também na gestão do RES. Ou seja, é necessário deixar que ele aprenda e também alerte aos profissionais de saúde sobre decisões paralelas, divergentes ou conflitantes, que eventualmente não foram consideradas em determinado cenário. Se o médico não tem capacidade temporal ou funcional para perceber as discrepâncias em centenas de pacientes que lhe são pretéritos, ou se a Operadora (ou mesmo o hospital) não consegue gerenciar milhares de prontuários de forma rápida e inteligente, é necessário de alguma forma envolver o paciente, fazendo dele um apoiador capaz de usar as tecnologias para otimizar seus cuidados e apoiar os médicos a também fazê-lo.
É na corrente existencialista de Sartre (1905–1980) que podemos buscar inspiração para entender a extensão do que é engajamento. Sua irretocável obra “O Ser e o Nada” cunha a ideia central de que “a existência antecede a essência”. Ao contrário da lógica dos gregos antigos (‘o homem nasce com uma essência virtuosa e deve aceitar por toda a vida o papel estabelecido pelo cosmos’), ou da teologia cristã (‘o homem nasce essencialmente bom’), o existencialismo sartreano expõe que antes de nascermos não ‘somos nada’, ou seja: “primeiro eu existo” e depois, ao longo da vida, eu “construo” minha essência. “Nossa existência não é pautada por nada, sendo assim, não existe uma natureza humana”, explica o filósofo. Para ele, ninguém nasce mulher, ou negro, ou judeu, ou puro, etc., sendo nossa essência o resultado de um construto desenvolvido em toda a nossa vida. Para Sartre, não há essência que anteceda a vida, ou: “minha existência não é orientada por nenhuma essência que me dê causa”. O movimento de “Maio de 1968”, por exemplo, o mais importante levante estudantil do século, tinha a marca da liberdade existencialista de Sartre (“é proibido proibir”), e cunhou nas gerações futuras o mantra de que a “liberdade é o motor para decidirmos nosso destino”, como já bem antes explicava Confúcio: ‘Nós construímos aquilo que somos’.
O pensamento emancipador de que “não existe uma natureza humana predefinida” foi definitivo no século XX. Ele compôs, por exemplo, o cenário do “movimento de liberação da mulher”, contrapondo a ideia chauvinista de que ela nasce para seguir atributos femininos essenciais: “ser mãe, ser submissa, atuar somente no espaço do lar e da família, ser sensível, ter paciência, etc.”. O movimento feminista recebeu apoio direto dos existencialistas: “nenhum contexto essencialista feminino precede a sua existência”. Assim, só podemos identificar quem somos depois de um tortuoso caminho libertário de existência vivente. Sempre seremos aquilo que nossa “liberdade de decidir” nos definir. Nesse contexto, se o sexo feminino já nascer com todas as essências subjetivas e doutrinárias (construídas em geral pelo homem) só caberá a mulher seguir esse caminho, sem a liberdade de “ser qualquer outro Ser”.
Mas o filósofo também acertou quando bradava em suas conferências (inclusive no Brasil): “a perspectiva de ser livre não é uma escolha. Não temos o direito de ‘não ser livres’. Estamos condenados a sê-lo”. O preço dessa liberdade, ou seja, o custo de constantemente sermos obrigados a decidir sobre qualquer coisa na vida (“um arco de 360º”) nos leva a inevitável angústia: tristeza de nunca ter certeza de qual o melhor caminho a seguir, qual a melhor decisão, ou qual escolha acarretará uma vida melhor. Estamos condenados a ser ‘eternamente angustiados’, porque sempre somos livres para escolher os nossos caminhos, quase nunca tendo a certeza de qual é o melhor (aliás, tecnicamente a angústia é única tristeza existencial). Uma girafa, uma ameba, uma tesoura, ou qualquer outro ente segue a cartilha essencialista: eles são aquilo que nasceram para ser. Nós, seres pensantes, não: somos aquilo que escolhemos ser ao longo da vida. Por tudo isso, viver é uma dificuldade sem fim, e viver bem é quase uma loteria.
Nessa direção, o bioma da Saúde ainda é conduzido por um fluxo identitário “eminentemente essencialista”, alcançando os dois lados da relação: médicos se vêm “ungidos pelo destino para conduzir os rumos sanitários dos pacientes” (grande parte não aceita a autonomia do paciente, ou mesmo o compartilhamento dos cuidados com seus pares da mesma disciplina médica); e pacientes, mesmo quando não existe doença, se enxergam “nascidos essencialmente para serem conduzidos por condicionamentos predefinidos pela comunidade médica”. Quando esta lhe falta, por dificuldades de acesso, custeio, localidade, medo, preguiça, negacionismo, ou qualquer outro motivo, sua ‘essência de dependente’ o faz sentar e esperar o agravamento. Assim, para a grande maioria, a curadoria da saúde corporal e mental é essencialmente um “dever dos outros”, sendo essa hermenêutica muito pouco alterada nos últimos séculos. Talvez não pudesse ser diferente, pois não havia uma consciência coletiva que estimulasse alterações (como ocorreu nos movimentos sociais identitários do final do século XX). Mas no século XXI, a pandemia e o avanço da emancipação tecnológica do paciente estão mudando o cenário, e o existencialismo, ou a nossa parte existencial que sabe das fragilidades do corpo, está triunfando sobre os essencialistas da cadeia de saúde, que dão de ombros para nosso engajamento em busca do autocuidado. Em outras palavras: ou nos cuidamos, nos engajamos e assumimos o controle sobre nosso corpo, ou na saúde continuaremos ‘girafas’.
Jean-Paul Sartre foi implacável em estabelecer o engajamento como a pedra angular do existencialismo, embora ele mesmo tenha reconhecido a dificuldade do ‘engajamento constante e ininterrupto’, sempre voltado a sustentar a liberdade para decidirmos sobre nossa existência. “Todo homem está engajado na liberdade, apesar de não necessariamente ter consciência disso”, explicou o pensador francês. Se pretendermos existir, precisamos construir ao longo da vida uma essência-saudável, usando nossa liberdade de fazer escolhas para estimular essa alvenaria. Para Sartre, o mundo existente (real) reflete a luta humana para superar os desafios em seu habitat, e “quando falta ao homem alimento, segurança e abrigo ele em resposta inventa a agricultura, as armas e as cidades”. Para ele, a chamada ‘evolução humana’ seria tão somente a resposta livremente arquitetada pelo homem para prover-se daquilo que lhe falta, daquilo que ele mesmo acredita que falta, ou daquilo que ele deseja que falte.
O “engajamento do paciente”, dentro e fora da Cadeia de Saúde, suportado pelas plataformas digitais, é a única maneira de continuarmos existindo num mundo cada vez mais populado, mais desigual e com cada vez menos acesso aos bens de saúde. Da mesma forma, sem esse engajamento a sociedade-sanitária (pública e suplementar) será cada vez mais uma fábrica de insolvências e insuficiências. Não existe um plano B, ou uma tecnologia milagrosa que possa assistir 7,7 bilhões de terráqueos em suas carências sanitárias. É o próprio Sartre quem explica: “O homem nada pode desejar, a menos que primeiro tenha entendido que não deve contar com ninguém além de si mesmo; que ele está sozinho, que não foi predestinado a nada, que está abandonado na terra no meio de suas responsabilidades infinitas, sem ajuda, sem outro objetivo que não seja aquele a que ele se propõe, e sem outro destino que não seja aquele que ele forja para si mesmo. O homem nada mais é do que aquilo que faz de si mesmo”.
Guilherme S. Hummel
Scientific Coordinator Hospitalar Hub
Head Mentor – EMI (eHealth Mentor Institute