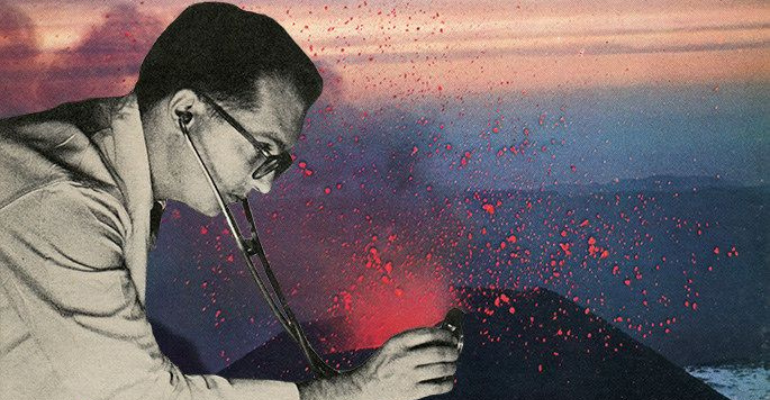Em setembro de 2022, o Canadá publicou pesquisa nacional revelando a “posição dos estudantes de medicina em relação ao ensino da Inteligência Artificial nas escolas médicas do país”. O resultado do estudo causou constrangimento no ambiente médico-acadêmico canadense e poderá mudar o perfil do ensino médico no país. Um total de 2.167 estudantes de 10 profissões em saúde, matriculados em 18 universidades do Canadá, responderam à pesquisa. O resultado está no estudo “Health Care Students’ Perspectives on Artificial Intelligence: Countrywide Survey in Canada”. No geral, 78,7% dos estudantes previram que a tecnologia de IA afetará suas carreiras na próxima década; e 74,5% relataram uma perspectiva positiva em relação ao papel emergente da IA em seus respectivos campos médicos. Os alunos, mesmo aqueles que se opõem à IA, identificaram a necessidade de incorporar rapidamente a compreensão de IA em seus currículos. Na esteira dessa e de outras pesquisas na mesma direção, o Royal College of Physicians and Surgeons of Canada e a Association of American Medical Colleges recomendaram o ensino de IA para profissionais de saúde, incluindo proveniência e curadoria de dados, ética em IA e avaliação crítica e interpretativa de aplicações de IA na saúde.
Outra pesquisa (“Attitudes and perceptions of UK medical students towards artificial intelligence and radiology: a multicentre survey”), realizada no Reino Unido em 2020, já mostrava que apenas “um terço dos estudantes de medicina do país tinha algum conhecimento básico de IA”. Nesse caso, 89% dos alunos responderam que o ensino de IA seria benéfico para suas carreiras e 78% concordaram que “os alunos deveriam receber treinamento em IA como parte de seu diploma médico”. Nunca na história do ensino médico houve tamanha pressão para renovação de seus desígnios. Mais do que isso, nunca se considerou tantas mudanças curriculares como nos últimos anos, notadamente depois do advento da Covid-19. Várias razões emparedam a formação médica em direção a mudanças, mas talvez a principal seja o gap tecnológico entre as práticas médicas ensinadas na academia e a realidade encontrada pelos alunos quando saem para clinicar. Tudo está “sub judice” dentro da academia médica, não importa em que país.
O Brasil é o segundo país no mundo com mais escolas de medicina, atrás apenas da Índia. Em 2020, existiam 305 cursos para uma população de 212,6 milhões. A China, por exemplo, tem menos de 200 cursos de medicina para 1,4 bilhão de habitantes. É verdade que bons médicos transcendem o ensino médico: são autodidatas, perseguem suas próprias linhas de pesquisa e constroem sua jornada de aprendizado muito mais fora da universidade do que dentro. Mas há um limite. Médicos recém-formados no país podem cursar de 7 a 10 anos de academia “sem nunca ouvir falar formalmente” (como disciplina curricular) sobre Big Data, Machine Learning, Tecnologias de Suporte a Decisão Diagnóstica, APIs, Telehealth e centenas de outras aplicações que já compõem a biosfera médico-assistencial.
Mais de 90 mil novos aplicativos de saúde digital foram adicionados ao mercado em 2021 (250 por dia). Quem seria o responsável direto para identificar os “penetras”, os irrelevantes e os confiáveis? Não conte com os médicos. Eles podem até identificar se uma droga é correta e aceitável, cabendo prescrevê-la e acompanhá-la. Foram habilitados na universidade para essa “incorporação tecnológica”. Mas quando o tema é tecnologia digital, foram abandonados à própria sorte, com escolas médicas chegando a cobrar R$ 100 mil de anuidade e entregando ao setor um recém-formado totalmente despreparado para a “vida clínico-digital”. Mas não é só o apartheid digital que revela a inconsistência das escolas médicas (com as exceções de sempre). Um dos debates mais acalorados nas lides acadêmicas refere-se ao “tempo de duração da formação médica”, uma ferrenha altercação entre dois extremos: (1) as ortodoxias que defendem preservar a “escolaridade clínica em sala de aula”; e (2) as demandas de um mundo com déficits crescentes de profissionais de saúde.
“Graduados em escolas de medicina com três anos de duração estão tão bem-preparados para a residência médica quanto aqueles que se formam em programas de quatro anos”. Essa foi a conclusão do estudo publicado em 2021 pela Association of American Medical Colleges (AAMC), denominado “Accelerated 3-Year MD Pathway Programs”. Talvez seja uma conclusão chocante para muitos catedráticos e titulares de escolas médicas no Brasil, cujos alunos passam mais de 7 anos nos bancos universitários. Mas não surpreende vários especialistas em formação educacional que acham ser um disparate a durabilidade dos cursos médicos e o seu grau de desatualização em relação as demandas do setor. Steven Scheinman, nefrologista e consagrado ex-reitor da Geisinger Commonwealth School of Medicine, recentemente provocou: “Na maioria das faculdades de medicina você passa seus dias sentado em palestras, recebendo informações, memorizando e aprendendo passivamente. Por que precisamos memorizar quando carregamos smartphones?” Abbas Hyderi, médico e professor da Kaiser Permanente School of Medicine, vai mais longe: “A maior parte do que os alunos aprendem no primeiro ano é esquecido no terceiro. A educação médica é um processo de aprendizagem ao longo da vida e o conhecimento clínico está em constante expansão e evolução, não se prestando à memorização ou aprendizagem mecânica”. Tracy Gaudet, médica, fundadora e diretora do Whole Health Institute, uma organização sem fins lucrativos totalmente centrada na construção e defesa das transformações na saúde, perfila: “Como médicos, estamos acostumados a fazer perguntas de uma certa forma, seguindo a prática-padrão de identificar doenças erigida nas escolas médicas. Temos que virar isso de cabeça para baixo e começar a fazer o que realmente importa para o paciente, construindo a partir daí um contexto de cuidados-contínuos. Pergunta: e se a saúde pudesse realmente ajudar as pessoas a explorar o propósito e o significado de suas vidas? A partir desse contexto, o médico deve unir o autocuidado e a saúde. Assim, o compromisso da escola médica não é ‘reduzir seus lipídios’, mas ajudá-lo a viver uma vida que seja importante e significativa, seja lá o que isso signifique para cada um”.
Scheinman lembra que a formação médica não é só um “compromisso com a cura”, mas sim com o paciente: “Os médicos são convidados para a vida dos pacientes como ninguém mais. Os indivíduos confiam em nós para chegar ao diagnóstico certo, para administrar drogas poderosas, ou para cortá-las. Eles nos confiam segredos que nem suas famílias conhecem. Isso é um grande privilégio que precisa ser valorizado e respeitado”. Essa responsabilidade não deriva só da quantidade de tempo que um aluno passa em frente a um quadro branco, com professores e suas canetas coloridas expectorando a propedêutica clínica. Faculdades de medicina são famosas por impor cargas exaustivas de aprendizado teórico aos alunos. O esgotamento clínico (“burnout”) já nasce nas escolas de medicina, onde sequestrar a mente dos alunos em tempo integral é uma forma de criar pertinência, autenticidade e relevância, mas que não significa “pertencimento”. Hyderi explica: “a educação médica atual resulta em médicos se tornando menos empáticos ao longo do tempo, e não mais empáticos; são relevantes, mas pertencem a mundos cada vez mais dispares daqueles dos pacientes”.
Nos anos 1970, governo dos EUA instou as escolas de medicina a cortar um ano para ajudar a preencher a escassez de médicos. A “força motriz” da comunidade médica, instalada nas Universidades do país, desestimulou os programas e aos poucos eles foram minguando. Agora, o interesse está em ascensão mais uma vez. Em 2012, os EUA tinham apenas dois “programas acelerados” de formação médica. Em 2014, já eram oito e em 2021 o CAMPP (Consortium of Accelerated Medical Pathway) já conta com 30 escolas que oferecem fast-track program, com centenas de matriculados. Vale salientar que na América do Norte e em vários outros países tornar-se médico pode levar até 11 anos, com 4 dedicados ao bacharelado, mais 4 anos na faculdade de medicina e pelo menos 3 completando a residência médica. No Canadá, a faculdade de medicina geralmente possui programa de 4 anos, mas a McMaster University e a University of Calgary já contam com currículos de 3 anos, estando ambas no ranking das melhores escolas médicas do país. Outro exemplo é a Tailândia, que reduziu o currículo de medicina de 7 para 6 anos, com a introdução de um “sub-estágio clínico” no último ano de escolaridade. O estudo “Comparison of OSCE performance between 6- and 7-year medical school curricula in Taiwan”, publicado em 2022, concluiu que “não há diferença na pontuação do país quando analisados os currículos de 6 e 7 anos”.
Hoje, as escolas de medicina mais comprometidas com a transformação do ensino são capazes de integrar tecnologia, economia, inovação e treinamento prático em uma só proposta curricular. Seus programas preparam os alunos para conviver com a mudança, com um novo perfil de paciente e com a transformação digital (essa mesma, que o paciente já experimenta em inúmeras outras atividades sociais). Não é mais possível formar médicos soberanos, autossuficientes e imperiais no seu desejo de aliviar o sofrimento do paciente. Essa verticalização clínica está acabando, dando seus últimos respiros, sendo substituída pela “integração do médico com a inteligência artificial e com a ciência de dados”. A concepção de achar que a formação deu ao médico “régua e compasso” para agir como instância máxima e autônoma na gestão da doença está em desuso. A medicina desta primeira metade do século precisa incorporar a “colaboração homem-máquina”, precisa “acompanhar o degrau tecnológico do paciente” e, acima de tudo, precisa se “conectar com respostas diagnósticas e terapêuticas mais rápidas e assertivas”.
Um médico que não utilize um EHR nos dias de hoje, por exemplo, é uma pífia caricatura da obsolescência. Quantas são as faculdades de medicina no Brasil que ensinam a prática do diagnóstico baseado em evidências extraídas de dados clínicos dos registro digitais? Poucas, raras e muitas vezes o fazem escondido dos titulares das disciplinas, que se orgulham em “professar sua insubmissão eletrônica”. Se você quer ouvir o som da obsolescência, enxergar a simbologia do vetusto ou sentir o neoarcaico de uma parte da comunidade médica basta perceber que não mais do que 10 a 15% dos médicos do país utilizam registros eletrônicos de saúde (RES) no seu dia a dia. A educação médica está no epicentro da transformação da saúde. Escolas médicas da nova era rejeitam os modelos educacionais ortodoxos, que enfatizam (1) o aprendizado mecânico; (2) a prestação de cuidados baseados em condicionantes (medicina heroica); e a (3) informalidade de dados clínicos aleatórios.
Estudo publicado em 2022 pela Elsevier Health (“Clinician of the Future”), envolvendo médicos de 111 países, perguntou a eles “como serão os cuidados em saúde daqui a 10 anos”. Alguns drivers da transformação são claros: (1) 86% dos médicos concordaram que o aumento de pacientes informados sobre suas condições clínicas está impulsionando a mudança na saúde; (2) 62% deles concordaram que o papel do clínico nos próximos 10 anos estará direcionado a aumentar a parceria com o paciente; (3) 51% disseram que telehealth será negativo para melhorar a empatia com os pacientes; e (4) 56% concordaram que os pacientes estarão cada vez mais capacitados a cuidar da própria saúde. A pesquisa deixa claro que a formação dos clínicos estará focada não apenas no conhecimento clínico, mas também nas habilidades de comunicação, liderança, gestão financeira e ciência de dados. Embora as impressões dos mais de 3 mil médicos que participaram da pesquisa seja algo óbvio, é gritante como parte da comunidade médica ainda enxerga uma “medicina centrada em qualquer coisa que não seja o paciente”. Nas entrevistas e mesas redondas realizadas como parte do estudo, médicos mostraram, por exemplo, suas frustrações com o uso do EMR (electronic medical records), que eles acreditam ser tão somente um fardo administrativo. Boa parte da sociedade médica está pouco preocupada com a importância do prontuário eletrônico para o paciente, mas muito preocupada com seu trabalho de escrituração eletrônica dos dados, o que claramente é herança de uma “formação médica estruturada em notificação-papel”. Se a ferramenta EHR é ruim, difícil, lenta e não-facilitadora deve ser substituída, modificada e enriquecida com a participação do médico. Mas não convém a ele cortejar a ideia de que poderá continuar a clinicar sem um EHR. Como explicou o C. K. Prahalad, professor de Estratégias de Mudança da Universidade de Michigan: “Durante as transformações, a curva do esquecimento às vezes é mais importante do que a de aprendizado”.
O próprio relatório da Elsevier mostra a inequívoca direção que a formação médica deve perseguir: ciência de dados. O indivíduo que for atraído pela função médica, conseguir adentrar à academia, mas não for aderente a dividir sua formação entre a ciência médica e a ciência de dados será proscrito e ilhado mesmo dentro da universidade. As respostas oferecidas ao estudo “Clinician of the Future” mostram que ainda existem 30% de médicos que não concordam que o uso das “tecnologias digitais permite uma transformação positiva do ecossistema sanitário”, com 69% deles achando que digital health é um fardo desafiador e 64% achando que as “tecnologias digitais vão exacerbar as desigualdades na saúde”. O que imediatamente nos remete a Max Planck, pai da física quântica: “A ortodoxia raramente capitula sem lutar”.
“Há muito tempo médicos são ensinados em escolas médicas, enfermeiros em faculdades de enfermagem e cientistas e engenheiros de computação em escolas técnicas. Esse não é o caminho a perseguir. Será necessário que os três níveis sejam treinados em conjunto e trabalhem em sintonia”, explica Leo Anthony Celi, médico, pesquisador, diretor do IMES (Institute for Medical Engineering & Science) e professor na Harvard Medical School. “Deveríamos mudar a forma como treinamos os médicos residentes. Ainda ensinamos muito sobre fatos e mecanismos, mas eles precisam saber como aprender com as bases de dados. Boa parte do que realizamos nos pacientes é fundamentado no que sabemos por meio de casos semelhantes. Assim, entendemos que a ciência de dados deve ser a peça-chave para o treinamento das novas gerações de profissionais", completa ele. Nos próximos 10 anos, haverá nos hospitais mais “analistas de dados médicos” do que médicos. Se o analisador de dados clínicos não vier de dentro da Academia Médica, virá de fora dela.
O excelente livro “O Ocaso da Clínica: A Medicina de Dados”, do pesquisador e médico Luiz Vianna Sobrinho, alocado no programa de pós-graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva da Fiocruz, desconstrói (corajosamente) visões futuristas sobre a clínica médica, exorcizando os conservadores de plantão (conservador é aquele cujo único objetivo é “conservar” o status-quo vigente). “Na virada dos anos 2000, chega ao país a medicina baseada em evidências (MBE), atrelada à cultura do managed-care; com mecanismos regulatórios tentando reduzir o custo ou tentando trazer esse custo a uma adequação financeira, ancorado no ponto de vista ético e científico. Essa é uma mudança fundamental”, explica Vianna em entrevista realizada em março de 2022. Para ele, o primeiro impacto na autonomia do profissional médico, no momento da decisão, vem de fora da experiência profissional. “A medicina, antes praticada individualmente, passa a ser influenciada por fatores mais ligados ao coletivo. No momento da decisão médica, a experiência profissional começa a perder valor para a chamada evidência científica e evidências de práticas ligadas a estudos randomizados. Com a chegada da MBE, cai por terra a chamada medicina baseada na autoridade, que é a opinião do especialista baseada em sua experiência profissional”. Da mesma forma, Vianna expõe a ferida de um modelo conceitual que emergiu dentro da academia médica: a ideia de que o uso da tecnologia eletrônica é causa central do afastamento na relação médico-paciente. “O afastamento entre médico e paciente, observado a partir do final do século XX, é um fenômeno social que ocorreu por meio de várias relações. Vejo fatores mais importantes como responsáveis por essas mudanças e existe vasta literatura sociológica sobre isso”, adiciona Vianna.
Universidades no Brasil são resistentes as mudanças, por definição. Qualquer mudança. Na academia médica chega a ser irritante, sempre ressaltando que existem exceções (poucas). Como explica o cientista e professor emérito do Centro de Informática (CIN) da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) Silvio Meira: “quem analisar os cursos e departamentos da maior parte das universidades públicas e privadas do país vai descobrir que o maior problema da graduação é a combinação de grades curriculares (normalmente ultrapassadas) e diplomas (associados a silos profissionais regulados), que deveriam dar lugar ao aprendizado de competências e habilidades. Essa aula em que o professor vai para uma sala de alunos, com cadeiras enfileiradas e copia o livro no quadro para que os alunos copiem no caderno, e depois regurgitem nas provas, é anterior a Gutemberg, antes da primeira metade do século XV. Há pelo menos 50 anos a ‘aula’ deveria ser um ambiente de aprendizagem diferente da idade média”.
A didática (arte de ensinar) está sendo substituída pela matética (arte de aprender), sendo que essa transformação não emana das escolas, mas das ‘artérias’ do aluno-consumidor (não importando sua idade), cada vez mais digitalizado, mais conectado, mais figital e mais horrorizado com a distância que separa o ensino médico do “ensino da prática médica”. É inadmissível que ao final de primeiro quarto deste século uma disciplina como “inteligência artificial das coisas médicas”, por exemplo, não faça parte das ementas de qualquer escola de medicina. Já temos até uma lei no país (21/2020) que regula o ‘uso de IA na medicina’, mas não temos estrutura dentro da academia para explorar a “matética IA”, embora sejam poucos os alunos que não explorem fora da academia o impacto das “máquinas de aprendizado profundo” na cadeia médico-assistencial. Fora da escola pode, dentro não.
Guilherme S. Hummel
Scientific Coordinator Hospitalar Hub
Head Mentor – EMI (eHealth Mentor Institute)